Edição 37
Matérias Especiais
Questões do currículo e da educação intercultural
Carlinda Leite

1. A multiculturalidade como um novo cenário dos espaços escolares e os discursos da educação intercultural
O cenário dos espaços escolares tem sofrido grandes alterações desde os fins do século XVIII, quando começaram a surgir, por toda a Europa, pequenas escolas para retirar da rua crianças filhas das classes trabalhadoras que eram obrigadas a abandonar os filhos enquanto trabalhavam. A escola, que tinha sido criada apenas para elites, foi, lentamente, alargando a sua base de recrutamento a clientelas sociais diversas que a foram transformando numa escola de massas e de contato entre grupos de diferentes culturas.
Sofrendo o efeito da progressiva multiculturalidade da sociedade, a escola passou a confrontar-se com uma realidade desajustada dos currículos etnocêntricos e monoculturais que a caracterizavam. Esse desajuste, aliado aos ideais democráticos que passaram a orientar muitas das políticas educativas, foi instituindo o discurso de “uma escola para todos” e reclamando a necessidade de se repensar o currículo nas condições de sucesso que oferece aos diferentes alunos que passaram a freqüentá-la.
De fato, muitos dos debates do passado — que olhavam a educação face à diferença, centrando-a nas questões individuais e, algumas vezes, analisando-a apenas numa perspectiva meramente psicológica — passaram a dar lugar a outros que sustentam a importância do grupo e do contexto cultural. Quero, com isso, dizer que, atualmente, têm sido admitidas como explicações para os acontecimentos educativos posições que, em vez de se centrarem exclusivamente nos sujeitos e nos seus “dotes” individuais, têm em conta os contextos em que ocorrem esses acontecimentos, as representações que deles fazem os diferentes atores sociais e a complexidade que atravessa qualquer situação de formação.
Mesmo sem recuarmos muito no tempo, e se nos centrarmos nestas últimas décadas, notamos, na verdade, bastantes diferenças no tipo de preocupações (e, portanto, também no tipo de discursos) que atravessam a educação escolar quando pretende refletir sobre o tipo de respostas que oferece aos seus clientes. Enquanto, nos anos 1980, a ênfase era colocada na igualdade de oportunidades individuais e na justificação da necessidade de uma reforma que se constituísse como um meio de combate ao insucesso escolar e de melhoria dos índices de desempenho dos alunos, nos anos 1990, reconhece-se a responsabilidade que tem, nesse sucesso ou insucesso, a organização do sistema escolar, e começa a ser expresso o imperativo de uma política da diferença para proporcionar quer uma real igualdade de oportunidade a todos os grupos, quer um enriquecimento pessoal e social que possa advir das interações entre esses diversos grupos. Mas qual a origem dessa atenção à multiculturalidade?
Origem da atenção à multiculturalidade
Como noutro lugar e noutro momento disse Leite (1997: 111–112), no caso português, a origem da atenção da educação escolar ao multiculturalismo tem as suas raízes:
Nos ideais de democracia instalados entre nós nos anos 1970.
No fato de ser visível, numa escola que passou a ser de massas, a presença de alunos que não correspondem ao perfil do “cliente ideal” (H. Becker, 1977). Ou seja, daquela criança ou daquele jovem que facilmente compreende ou aceita o ensino-padrão que caracteriza a escola tradicional e que responde de acordo com as regras valorizadas por esses modelos-padrão.
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (aprovada em 1948), que, entre nós, ganhou nova força com a Lei de Bases do Sistema Educativo (aprovada em 1986).
No direito à diferença hoje instituído nos discursos políticos que rejeitam as teses monoculturalistas, as quais, pressupondo um modelo cultural único, o impõem a todos como forma de ascensão e de reconhecimento social.
Na idéia do empobrecimento cultural que resulta da desculturação da cultura de origem, que obriga todos aqueles que estão mais afastados da cultura-padrão a “passarem uma esponja” sobre as suas raízes e experiências de vida.
Esses acontecimentos e essas idéias foram ocorrendo a par de uma evolução das explicações para o sucesso ou insucesso escolar dos alunos. Depois de ultrapassada a explicação baseada no Q.I. dos alunos, justificou-se o nível diferenciado dos seus desempenhos escolares pelo handicap sociocultural de que eram portadores, pelas técnicas de ensino utilizadas pelos professores e, mais recentemente, pelo tipo de organização do sistema escolar, pela capacidade, ou incapacidade, de se levar a cabo uma diferenciação pedagógica que promova uma educação em que tenham lugar as diversas culturas.
É evidente que essas diferentes explicações corresponderam, também, e correspondem a diferentes concepções curriculares e a diferentes papéis atribuídos aos professores. Da concepção meramente técnica do currículo, que o olha como algo de neutro — e na qual as atenções são apenas com o como, e não com o porquê, e em que aos professores cabe o papel de apenas executarem o que é prescrito —, tem-se vindo a caminhar para uma concepção que considera que o currículo não é neutro na seleção dos conhecimentos afirmados como mais importantes nem é neutro na forma como organiza a transmissão desses conhecimentos nem nos processos que adota para a sua estruturação.
Dito de outro modo, aceita-se que o currículo é atravessado por relações de poder e “transmite visões sociais particulares e interessadas” (Moreira e Silva, 1995: 7), pelo que distribui desiguais oportunidades de sucesso aos diferentes grupos socioculturais. Por isso, tem-se vindo a afirmar que cabe às escolas e aos professores adequarem esse currículo — que é prescrito em nível nacional — às realidades locais, assumindo, portanto, os professores um papel ativo na configuração curricular.
O respeito pelas características socioculturais dos alunos
Se aceitarmos que “não há ensino possível sem o reconhecimento, por parte daqueles a quem o ensino é dirigido, de certa legitimidade da coisa ensinada” (Forquin, 1993: 9), então temos de admitir a necessidade de incorporar “naquilo que ensinamos e no como ensinamos os pontos de vista na população escolar”. Por isso, “Na sociedade onde a diversidade e o multicultural são, cada vez mais, aspectos que as caracterizam, não faz sentido a continuação do privilégio dos currículos nacionalistas e etnocêntricos, em que apenas alguns se revêem e se sentem legítimos” (Leite, C., 1997: 207). E é aqui que reside um dos grandes desafios da escola de hoje e do exercício profissional de cada um de nós, professores e professoras.
Mas a concretização dessas idéias exige da nossa parte a capacidade para intervir, de vista curricular, numa atitude de gestão dos programas nacionais e de inovação que crie um ambiente de aprendizagem onde cada aluno, do ponto de vista afetivo, se sinta presente no espaço escolar e, do ponto de vista da aprendizagem, tenha condições para sistematizar os saberes decorrentes das suas experiências e adquirir saberes relacionados com as experiências de outros.
O que estou querendo dizer é que não é justo e não faz sentido, neste mundo de globalização e nesta sociedade multicultural, continuar a veicular uma educação monocultural, e faz, sim, sentido que a escola reconheça, por um lado, a existência de diferentes manifestações culturais e, por outro, se predisponha a conhecê-las, tomando-as como ponto de partida para as aprendizagens e como meio de enriquecimento de cada um e de todos.
Se queremos uma “escola para todos”, temos de partir da consideração do multiculturalismo, no qual os silêncios, as marginalizações e o desconhecimento são substituídos pelos diversos contributos. Uma “escola para todos” e em que “todos são diferentes” exige de cada professora e professor a capacidade e a flexibilidade para inovar na linha de um paradigma que proporcione o êxito e a mudança, sem despersonalizar e aculturar.
Perrenoud (1991) fala da necessidade de os professores fazerem uma série de lutos se o insucesso escolar os incomodar e se quiserem evoluir no sentido de uma diferenciação pedagógica. E, para fazer esse luto, refere: à necessidade de se reconhecer que o insucesso é evitável; em vez de se procurar um bode expiatório, reconhecer-se as próprias responsabilidades para esse insucesso; encontrar prazer em lutar contra o insucesso; encontrar formas eficazes de ajudar os alunos em dificuldades; vencer as inércias e as rotinas repousantes; pôr em causa as certezas didáticas, tendo consciência de que as situações de resistência de alguns alunos estão muitas vezes na base de soluções mais inovadoras; valorizar dinâmicas de instituição e o trabalho em equipe; abandonar o papel central dos acontecimentos para se tornar pessoa-recurso.
É também uma atitude orientada por esses princípios que se enquadra numa educação intercultural. Perante a diversidade dos alunos, um professor que desenvolve práticas que contemplam essas especificidades acredita nas vantagens que daí decorrem e transporta para a escola os saberes do cotidiano dos diversos grupos, trabalhando-os na construção de um saber escolar.

2. Os desafios de uma escola para todos numa sociedade multicultural1
O multiculturalismo é uma realidade social que, em Portugal, ao nível da educação escolar, a partir dos anos 1990, começou a despertar um progressivo interesse, quer por parte do Ministério da Tutela, quer de algumas das instituições de formação de professores atentas ao desafio de transformar uma “escola monocultural” e elitista numa “escola para todos”. Ou seja, esses profissionais desejaram passar de uma escola que, por tradição, se tem orientado pelos paradigmas da cultura única e da seleção para uma outra que aceite, numa dinâmica de inclusão, a diversidade social e cultural e assuma a responsabilidade de, a todos, proporcionar sucesso escolar, considerando que essa escola será a tradução da concretização dos ideais de uma democracia participada e que interpretam a igualdade de oportunidades já não apenas em termos de acesso à escola, mas também de sucesso.
Penso que é pacífico aceitar-se como crucial, nesse desafio de uma “escola para todos”, o papel que os professores venham a assumir e que deverá passar, forçosamente, por uma implicação ativa nos processos de inovação curricular e na configuração de estratégias de educação interculturais. A experiência tem nos mostrado que as diretrizes e regulamentações podem constituir um bom apoio para a configuração de uma educação de qualidade, mas não são elas, por si sós, que garantem essa qualidade. É da forma com que cada professora e professor está na profissão e se integra ou militantemente mobiliza redes de equipes educativas que resultam projetos de intervenção mais adequados aos alunos e aos contextos de trabalho.
Na linha das considerações feitas, a intenção das idéias que desenvolvo nesse título é abordar alguns aspectos que suscitem uma reflexão sobre características do sistema escolar e vivências educativas que vão construindo a nossa mentalidade e os nossos fazeres profissionais e com os quais precisamos, por vezes, fazer rupturas, numa atitude de “aplicação edificante”, ou seja, de um questionamento que produza um novo saber, saber este que se traduzirá na transformação do inicial.
O direito de todos à Educação
Com a aprovação dos direitos humanos em 1948, no âmbito da ONU, as nações do mundo aceitaram como princípio que todos têm o direito à Educação. No entanto, decorridos esses anos (já mais de meio século), verifica-se que esse princípio de igualdade em face da educação escolar está longe de ser conseguido. E, mesmo sem nos determos em estatísticas sobre índices de freqüência e de abandono escolar, por certo (e infelizmente) todos conhecemos exemplos que mostram que essa intenção não ultrapassou, ainda, o domínio das idéias e da formulação verbal.
A ocorrência desse fato obriga-nos a questionar o que falhou, isto é, interrogar por que o sistema não consegue responder positivamente à população a quem se destina. E a situação agrava-se quando se pensa na escolaridade básica obrigatória, pois, por um lado, não se consegue que “todos” tenham uma formação escolar que se considera básica e, por outro lado, obriga-se “alguns” a aceitarem como normal o fatalismo do seu insucesso escolar. Por isso, devemos questionar:
Será que é legítimo obrigar as crianças a freqüentarem uma escola que não se organiza para satisfazer todos os seus “clientes”?
O que se quer dizer quando se afirma o direito de todos à igualdade na educação escolar?
Igualdade significará apenas que todos podem aceder à escola?
Bastará o simples “abrir das portas” da instituição para se considerar cumprido esse direito?
É evidente que a resposta à primeira e às duas últimas perguntas é não. A própria Lei de Bases do Sistema Educativo Português (Lei n°46/86, artigo 2°) diz que “é responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino, garantindo o direito a uma igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares”. No entanto, nem sempre foi esse o entendimento feito, o que marca, ainda hoje, algumas das mentalidades dos professores, encarregados de educação, alunos e opinião pública, em geral.
A igualdade de oportunidades de acesso e “a cada um segundo o seu mérito”
Se nos situarmos no espaço temporal do princípio dos anos 1970 e na célebre “batalha da educação” preconizada por Veiga Simão na tentativa de democratização escolar, o entendimento da igualdade de oportunidades confinava-se às situações de acesso, pois aceitava-se um sucesso diferenciado, de acordo com o mérito de cada um.
Dizia-se “A cada um segundo o seu mérito” acreditando-se que esse sucesso dependia apenas das capacidades individuais e do esforço despendido por cada aluno num trabalho que lhe permitisse aprender o que a escola tem a ensinar. Nessa lógica, se o aluno fosse inteligente, cumprisse as tarefas e estudasse as matérias escolares, atingiria os objetivos definidos pelo sistema; em caso contrário, não haveria razão para alarme ou para “más consciências”, pois a causa estava no “não-mérito” da criança ou do jovem. Essa é a “tese da meritocracia”, que ignora as situações diferenciadas dos alunos presentes na escola e que influencia os processos de ascensão ao saber escolar.
 A Figura 1, retirada do livro Cuidado, Escola! 2, ilustra bem o que se pretende dizer. As crianças não estão todas nas mesmas condições em face dos códigos, das regras, das linguagens e da cultura escolares; umas têm o acesso facilitado, pois pertencem a famílias que fornecem apoio ou que lhes criam um ambiente de familiaridade com o que é ensinado; para outras, tudo o que se passa na escola lhes é estranho, pois não estão familiarizadas com a sua linguagem e as suas regras e não possuem apoios que facilitem o acesso ao saber e à cultura escolares. Por isso, se os alunos forem tratados todos da mesma forma, como se apenas de um se tratasse, as conseqüências serão, inevitavelmente, a exclusão daqueles que não se ajustam ao perfil do “cliente ideal”, isto é, como atrás já se disse, aquele que facilmente compreende e aceita o ensino-padrão que caracteriza a escola tradicional e responde de acordo com o que por ela é definido de forma mais ou menos explícita.
A Figura 1, retirada do livro Cuidado, Escola! 2, ilustra bem o que se pretende dizer. As crianças não estão todas nas mesmas condições em face dos códigos, das regras, das linguagens e da cultura escolares; umas têm o acesso facilitado, pois pertencem a famílias que fornecem apoio ou que lhes criam um ambiente de familiaridade com o que é ensinado; para outras, tudo o que se passa na escola lhes é estranho, pois não estão familiarizadas com a sua linguagem e as suas regras e não possuem apoios que facilitem o acesso ao saber e à cultura escolares. Por isso, se os alunos forem tratados todos da mesma forma, como se apenas de um se tratasse, as conseqüências serão, inevitavelmente, a exclusão daqueles que não se ajustam ao perfil do “cliente ideal”, isto é, como atrás já se disse, aquele que facilmente compreende e aceita o ensino-padrão que caracteriza a escola tradicional e responde de acordo com o que por ela é definido de forma mais ou menos explícita.
Necessidade de um ensino diferenciado
Só uma implicação ativa dos professores no projeto curricular e nos processos do seu desenvolvimento — implicação esta orientada pelo desejo de responder às situações reais e às características plurais das crianças e dos jovens dos diversos grupos sociais, econômicos e culturais presentes na escola — favorece a ocorrência de uma adaptação do plano curricular oficialmente prescrito e a diferenciação positiva dos processos de ensinar e de fazer aprender. Por outro lado, só essa atitude dos professores permite contrariar as teses que acusam a instituição escolar de não mais fazer do que reproduzir as situações socioeconômicas existentes.
Se queremos uma “escola para todos”, e não apenas para o tal “cliente ideal”, temos de aceitar o desafio de prever e conceber diferentes processos e meios de ensinar para que se criem condições onde todos se sintam reconhecidos, respeitados e dispostos a aprender, conhecendo e reconhecendo outros diferentes de si.
Esses desafios — que não se coadunam com o mero domínio, por parte dos professores, de técnicas e estratégias que se apliquem de modo universal —, ao exigirem uma contínua procura dos “caminhos” e processos mais adequados para cada situação, contribuem também para a construção da profissionalidade docente e legitimam que os professores se assumam não apenas como executores passivos de programas por outros delineados, mas como intervenientes ativos nos processos de inovação curricular.
Estou consciente de que as idéias que estão a ser expressas não são, por vezes, fáceis de concretizar. No entanto, penso ser consensual considerar-se que é essa postura profissional que torna estimulante a atividade docente, que contribui para a melhoria da auto-estima de cada professora e professor e que confere a este setor de atividade uma imagem pública e social mais reconhecida. Não podemos nos conformar em ver crianças e jovens das nossas escolas, por um lado, desentusiasmados com o que se pretende ensinar-lhes e com a forma como se lhes ensina e, por outro lado, em vê-los todos os anos excluídos do sistema, fazendo-os ter cada vez menos alternativas para uma vida futura.
A educação intercultural na renovação de um currículo que concretize o princípio da “escola para todos”
Uma das idéias que até agora atravessaram a reflexão que tenho vindo a convidar aqueles que me estão a ler a fazerem comigo é a de que uma “escola para todos”, em que “todos são diferentes”, exige de cada professora e professor a capacidade e a flexibilidade para inovar na linha de um paradigma que proporcione o êxito e a mudança, sem despersonalizar e aculturar.
As argumentações que têm sido feitas, do ponto de vista social e educativo, apontam para o caráter injusto e empobrecedor que os princípios que orientam a assimilação ou homogeneização cultural transportam. Na realidade, e como já atrás foi indiciado, a valorização de uma cultura única e as práticas de homogeneidade social penalizam determinados grupos e, ao ignorarem a riqueza proveniente da diversidade, impedem desenvolvimentos societais que se afastem dessa cultura considerada padrão. Daí as críticas a uma educação monocultural.
Decorrente dessas críticas feitas às práticas monoculturalistas e assimilacionistas que, perante a diferença, optam por uma atitude subtrativa — ignorando essa diferença — ou por uma atitude aditiva — preenchendo os aspectos considerados em déficit relativamente à cultura hegemônica —, outras correntes têm surgido apoiadas em idéias do reconhecimento da existência de culturas diversas do direito à diferença e do enriquecimento que pode advir da interação entre essas características diversas.
É perante esse multiculturalismo que se caracterizam as sociedades em geral, e a portuguesa em particular, os ideais democráticos de uma “escola para todos” e os novos papéis atribuídos aos professores no currículo e nos processos do seu desenvolvimento, surgindo discursos, projetos e enquadramentos legais que procuram adaptar a escola às mudanças ocorridas, formando-se a educação intercultural.
A educação nas respostas ao multiculturalismo
As respostas educativas que têm sido dadas ao multiculturalismo têm variado ao longo dos anos, de país para país, de escola para escola e, mesmo, de professor para professor, influenciadas por concepções ideológicas, teóricas e contextuais diversas. Na intenção de suscitar alguma reflexão em torno de possíveis efeitos das respostas que se dão à multiculturalidade e que, à partida, poderiam não ser desejados, explicito algumas dessas respostas. Assim:
Adeptos de algumas correntes, perante o multiculturalismo, põem em prática uma educação que se confina à aceitação passiva da diferença, nada fazendo no sentido de a fazer interagir. É aquilo a que se pode chamar de educação multicultural benevolente ou passiva, pois reconhece a diferença sem a querer conhecer.3
Das críticas a essa educação multicultural, por não resolver os problemas decorrentes da diferença e que se traduzem em fenômenos de racismo e atitudes xenófobas da responsabilidade dos grupos das culturas majoritárias, há quem defenda uma educação anti-racista, que tem como objetivo principal combater os estereótipos, preconceitos e outras atitudes geradoras de marginalização racial.
Perspectivas que consideram ser empobrecedor, para cada uma e para todas as culturas, isolá-las, impedindo interações e confrontos entre diferentes histórias, vivências e valores, apostam no enriquecimento mútuo proveniente de uma convivialidade refletida. Apostam, portanto, no que se designa como uma educação intercultural.
Se pensarmos nas conseqüências de cada um desses tipos de atitude escolar, é previsível que a aceitação passiva (e não interagida) da diferença acentue essa diferença e provoque até a “guetização”. É o que se passa, também, quando olhamos paternal e caritativamente os alunos que pertencem a grupos sociais e econômicos desfavorecidos, mas não os desafiamos a desenvolverem o seu potencial cognitivo nem lhes proporcionamos ocasiões de conhecerem a organização e as regras da cultura majoritária e de maior poder. É com ela, também, que essas crianças terão de viver e conviver. Por isso, o desconhecimento das suas lógicas e dos processos do seu funcionamento não mais faz do que favorecer situações de exclusão. Há que se proporcionar a esses alunos um bilingüismo cultural, que lhes permita conhecer e reconhecer as suas origens, mas, simultaneamente, aceder ao usufruto dos direitos da cidadania conferidos pelo convívio com outras culturas.
Com o que acabei de dizer, não pretendi negar o direito à diferença. A intenção foi realçar a possibilidade de cada um ter acesso a bens de outras culturas, sem ter de negar e rejeitar a sua identidade e as especificidades que dela lhe advêm. É sabido que o reconhecimento pela escola (e na escola) de diferentes manifestações e comportamentos culturais tem repercussões ao nível das auto-estimas dos elementos dos grupos minoritários, gerando confiança e predisposição para a aquisição de outros saberes. É nisso que cada um ou uma de nós, educador ou educadora, terá de acreditar se quiser vencer o fatalismo do insucesso escolar e contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática.
Em síntese, uma educação intercultural não encara a diversidade dos alunos como um problema e, perante ela, recorre a práticas que permitem a cada um deles conhecer melhor a si e aos outros. Para isso, transporta para a escola os saberes do cotidiano e as especificidades dos diversos grupos e trabalha-os não de forma esporádica e fragmentada, mas contextualizados e vivenciados por processos interagidos.
Essa atitude educativa é, portanto, substancialmente diferente de um “currículo turístico”4, onde os temas da diversidade cultural, da situação diferenciada das mulheres e outros aspectos das especificidades de certos grupos socioculturais e étnicos promovem um olhar do “diferente” como algo de estranho e de exótico. Essa é apenas uma atitude de contemplação que, ao procurar definir ou descrever as culturas em presença, numa atitude comparativa, tem, muitas vezes, o efeito perverso de separar o “nós” dos “outros” e de só realçar as diferenças, reforçando os estereótipos.
A Figura 2 ilustra o tipo de interação entre culturas característico da educação intercultural e o que o distingue de uma educação monocultural e de uma multicultural.
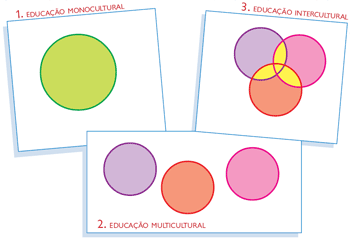
O intercultural bem conduzido permite “identidade ao outro”, mas, sobretudo, “conhecer o outro na sua diferença e complexidade” (Perotti, 1992: 61). Se aceitarmos, portanto, essas idéias, a coexistência nas escolas e nas salas de aula de alunos portadores de culturas diversas, em vez de constituir um obstáculo para o ensino, pode ser um fator de enriquecimento, pela reciprocidade que essa situação acarreta e pelas oportunidades de aquisição que oferece da “competência cultural” (Leite, C. 1997: 118).
De fato, quando acreditamos nas vantagens que decorrem dessas interações culturais, desenvolvemos práticas que contemplam as especificidades diversas dos alunos, damos lugar, na escola, aos saberes do cotidiano dos diversos grupos e trabalhamos esses saberes não de forma esporádica e fragmentada, mas, sim, de uma forma contextualizada e vivenciada por processos interagidos.
Como, também, noutro momento, disse C. Leite (1997: 315–316) e apoiando-me em M. Rey (1986: 24–37), podemos considerar que a concretização dessas idéias, ou seja, o desenvolvimento de uma educação intercultural é facilitado se nos orientarmos pelas seguintes idéias-base:
1. As culturas devem ser apreendidas no seu dinamismo através de processos interativos que impliquem reconhecimentos mútuos e que desocultem relações de dominação.
2. A educação intercultural é um princípio subjacente a toda a atividade escolar, e não uma nova disciplina; é o que Merino Fernández e Muñoz Sedano (1995: 155) consideram ser “fundamentalmente uma educação de valores e de atitudes”.
3. Uma postura e opção interculturais pressupõem uma ação integrada que não se esgota nos conteúdos e nas matérias selecionados para o ensino e a aprendizagem. Ao contrário, atravessam todos os aspectos da organização e gestão curriculares como, por exemplo, a elaboração de programas e dos horários escolares, a seleção dos recursos materiais e humanos, o tipo de atividade extra-escolar, etc.
4. A escola é o lugar privilegiado de co-educação e tem de ser o lugar de criação de condições de comunicação real entre alunos de origens diversas, de forma a permitir uma partilha de experiências e o desenvolvimento de atitudes de aceitação.
5. É importante a valorização das culturas maternas dos diversos grupos presentes na escola, quer pelo poder de expressão da identidade pessoal e social, quer pela significação que comporta enquanto reconhecimento do direito à diferença.
6. A arte, enquanto expressão artística e cultural, é uma forma privilegiada de comunicação e reconhecimento das diversas culturas.
7. A implicação das famílias e outros elementos da comunidade é não só uma condição importante de aprendizagem, como também um fator gerador de um maior conhecimento e articulação entre eles.
No entanto, há quem acuse a educação escolar, quando tem em conta a diversidade de acentuar a diferença ou alertar para ela. Concordo que se corre esse risco quando as práticas educativas separam, como atrás sustentei, o “nós” dos “outros” e só realçam as diferenças. Mas o que estou aqui a propor é que práticas interculturais se “alimentem” de situações concretas, do contato entre grupos ou indivíduos concretos e situados num momento histórico e social determinado.
Mas, a esse propósito, vale a pena também lembrar que não podemos olhar a educação intercultural como uma panacéia para remediar as dificuldades educacionais colocadas pelas crianças e pelos jovens das minorias e resolver todas as situações de desigualdade, discriminação e exclusão econômica, social e cultural. Ela é apenas um processo de aquisição de um biculturalismo, ou seja, um meio de adquirir competência em duas culturas: a cultura de origem e a do grupo social majoritário e que detém o poder, pois só assim se criam condições para que todos sejam capazes de vir a usufruir da totalidade dos bens sociais.
1 Parte deste texto foi publicada no jornal Rumos, n° 11, Julho/Agosto, pp. 8–10.
2 Freire, P. (org.) (1980). Cuidado, Escola! Desigualdade, Domesticação e Algumas Saídas. São Paulo: Brasiliense, p. 74.
3 Steve Stoer, a este propósito e das características que distinguem um professor monocultural de um outro que seja inter/multicultural, refere que o primeiro “reconhece diferenças culturais sem as querer conhecer”, enquanto o segundo “conhece as diferenças culturais através do desenvolvimento de dispositivos pedagógicos na base da noção de cultura, n° 1, p. 19.
4 Expressão usada por Husén, T. (1988). Nuevo Análisis de la Sociedad del Aprendizaje. Barcelona: Ed. Paidos/MEC.
Fonte: LEITE, Carlinda. Porto: Asa, 2003. p.11–30. Para uma escola curricularmente inteligente.
